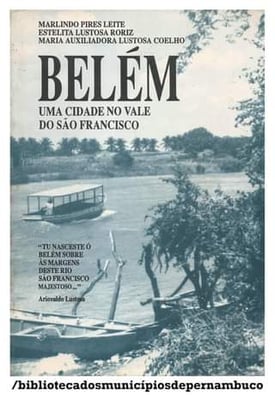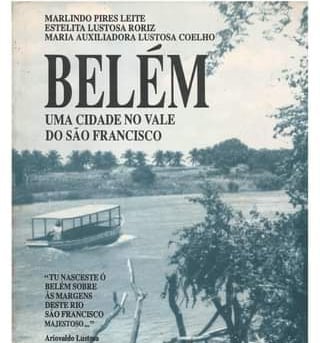História de Belém do São Francisco
Belém: Uma cidade no Vale do São Francisco
Por:
Marlindo Pires Leite;
Maria Estelita Lustosa;
Maria Auxiliadora Lustosa Coelho
ORIGENS DA CIDADE
Presume-se que o nome Belém tenha sido uma homenagem à Nossa Senhora de Belém, imagem venerada na igrejinha da antiga aldeia da ilha do
Araxá (hoje ha da Missão). Atualmente, não existe mais a igrejinha, pois desabou na grande cheia do São Francisco, em 1792, ficando só os escombros.
O surgimento da cidade vem de meados do Século XVIII, com o estabelecimento da Fazenda Canabrava, pertencente à "Casa da Torre”.
Em 1793, essas terras foram arrendadas da "Casa da Torre de Garcia d'Avila, pelo casal D. Ignácia Maria da Conceição e Manoel de Carvalho Alves, que aqui se estabeleceu com sua família.
Da fazenda, surgiu o povoado que foi deslocado para a fazenda de António de Sá Araújo, por ser um local propicio ao estabelecimento de feira semanal e a aportagem de embarcações
Em 12 de outubro de 1885, o povoado passou à freguesia e pela Lei Estadual nº 553, de 13 de junho de 1902, passou à categoria de vila, com o nome de Belém. Em 07 de maio de 1903, foi elevada à categoria de cidade, pela Lei Estadual nº 597, com o nome de Belém de Cabrobó permanecendo com este nome até 1928. Mas, posteriormente, volta a ter o nome de Belém, até 1943, quando passou a se denominar Jatinã. Em 1953, voltou a receber o nome de Belém, acrescido da expressão "do São Francisco, (Belém do São Francisco), o que permanece até hoje.
O MARCO INICIAL
Qual teria sido a fundação primeira de Belém do São Francisco? Qual a sua origem? Diz a "Enciclopédia dos Municípios Brasileiros que a cidade é originária de uma povoação, fundada em 1830, nas terras do fazendeiro Antônio de Sá Araújo, no município de Cabrobó. Eis aí uma versão, e uma versão oficial, uma vez que a "Enciclopédia dos Municípios Brasileiros é elaborada por um respeitável órgão do poder público: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas é imperioso consultar outras fontes. Só um confronto de documentação idônea poderá conduzir-nos a conclusões seguras.
Em seu trabalho, denominado "Quatro Maravilhas Naturais do Brasi João Gualberto de Oliveira dedica um capítulo especial ao São Francisco. Diversos aspectos da ribeira e, notadamente, da cachoeira de Paulo Afonso das obras de aproveitamento de seu potencial hidráulico são objeto de cuidadoso estudo, João Gualberto, tratando da origem das antigas cidades do vale franciscano, diz:
“O Vale do São Francisco, mercê da atração das águas em catadupa, da vegetação das margens e do sal abundante nos barreiros, desempenhou papel de um centro catalizador do rápido povoamento da zona. Nas suas orlas e ribanceiras, brotaram e se multiplicaram os currais -antigas fazendas de gado. Datam, dessa época, as povoações que, com o tempo, se transformariam em cidades."
O consagrado historiador Pedro Calmon, na "História da Casa da Torre”, diz: "Já em 1647, o capitão Garcia d'Ávila II e o Pe. Antônio Pereira haviam descoberto o rio São Francisco e povoado de currais o Sertão, onde ficam as aldeias de Rodelas”. Como se não bastasse tão vasto latifúndio, Francisco Dias d'Ávila II, em razão do matrimônio contraído com Leonor Marinho, em 1679, tornou-se senhor de novas e consideráveis glebas. As terras dotais que acrescentou ao seu patrimônio, pela margem esquerda do São Francisco, iam dos limites da sesmaria recebida de André Vidal de Negreiros até a foz do riacho Pajeú, pelo qual subia até às cabeceiras. Francisco Dias d'Avila II foi senhor de quase todo o Sertão pernambucano. Diz Álvaro Ferraz, em um belo trabalho sobre o passado de Floresta, que foi por aquela época que Francisco Dias d'Avila II teve o domínio das terras florestanas. A afirmação também é válida quanto à Belém do S Francisco. Na segunda metade do Século XVII, as terras do município de Belém pertenciam aos fidalgos da Casa da Torre.
Padre Martinho de Nantes, em "Relação a uma Missão no Rio São Francisco", diz que Padre Francisco de Domfront foi missionário da aldeia dos cariris em Rodelas e viera a Pernambuco refazer suas provisões
Mais tarde, os jesuítas estavam numa aldeia instalada à margem direita do rio, onde era antes a cidade de Rodelas. Fernando Henrique Guilherme Halfeld se refere a essa aldeia dos jesuítas. Mas, na margem esquerda, havia uma povoação sob o nome de Jatinã, sede de município pernambucano (antiga Belém).
Documentos locais, por outro lado, merecem ser invocados. É o caso de antigas escrituras de propriedade do município, em muitas das qual encontram expressões como estas: “Terrenos da fazenda Canabrava os terrenos da fazenda Pedra e Alegre, pertencentes ao senhorio da casa da Torre”.
Anos mais tarde, as terras da fazenda Canabrava foram compradas pelo Capitão-Mor Manoel Gonçalves Torres aos senhores da Torre, representado pelo Capitão Damaso de Souza Ferraz, morador no Sertão do Pajeú. E no ano de 1793, Dona Ignácia Maria da Conceição, e esposa do português Manoel de Carvalho Alves, adquire a fazenda, pela quantia de 800 mil rés, passando a residir lá com toda a sua família.
A estas alturas, estamos autorizados a afirmar, com base na documentação translada para estas páginas, que a versão da “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros” não pode prevalecer.
Confirma-se, desse modo, que o marco Inicial de Belém do São Francisco foi mesmo a fazenda de criação de gado de Dona Ignácia Marta da Conceição, que já estava situada no ano de 1791, e que, devido as cachoeiras e a distância das ilhas povoadas, no Século XIX, o povoado foi transferido para um local mais elevado (atualmente Belém), onde o aportamento era mais seguro.
As origens de Belém são um sítio de terras que teve como proprietário a Casa da Torre, e, mais tarde, uma fazenda de gado que teve como organizadores Ignácia Maria da Conceição e Manoel de Carvalho Alves. Convém ressaltar que o povoado foi transferido para o lugar denominado Belém, na mesma fazenda de propriedade do seu neto, Antônio de Sá Araújo.
FORMAS DE POVOAMENTO
Nos caminhos do gado, surgem as feiras e os currais. O sistema de transporte do gado exigia a criação de locais apropriados para o descanso e recuperação do peso destes, fazendo com que surgissem os currais e as fazendas que se instalavam com a criação, ao lado de pequena agricultura de subsistência. As feiras surgem, também, como necessidade de comercialização dos produtos pastoril e agrícola. Assim, as terras do Sertão pernambucano iam sendo povoadas.
Floresta teve origem em uma fazenda de gado chamada "Fazenda Grande”, construída em terras pertencentes à "Casa da Torre”, tendo se tornado freguesia, em 1803.
Petrolândia iniciou-se como um bebedouro de gado, local conhecido como Jatobá. Ali, os vaqueiros procuravam comercializar ou curar o gado de alguma doença. Com a chegada da estrada de ferro em 1883, a povoação passa a crescer de importância, elevando-se à cidade, em 1909.
Itacuruba surgiu de pequena povoação ribeirinha. Sofre impulso a partir da criação de feira semanal, o que provoca a formação do núcleo Inicial da cidade.
As terras do interior, fora da região açucareira, praticamente não tinham donos. As fazendas de criação de gado se estabeleceram especialmente às margens do rio São Francisco e de outros rios. Nelas se utilizou mão-de-obra livre, formada por mestiços, índios catequizados e negros, forros ou fugidos da região litorânea.
Os índios, habitantes naturais da Capitania, ocupando-a desde o rio São Francisco até a Ilha de Itamaracá, através das tribos tupis e tapuias constituem, também, a partir da formação de aldeamentos surgidos com missões religiosas, elementos de fixação de um novo povoado.
É natural vermos a construção da igreja anteceder a criação da freguesia, assim como a fundação da freguesia preceder, em muitos anos, à organização política das povoações do Vale. E esses aldeamentos eram, na sua maior parte, quase sempre, resultados dos frades missionários.
Neste nosso esboço histórico, compreendemos que não precisaríamos mergulhar profundamente na época em que os frades praticavam sua catequese e educavam nossos indígenas. E que, na área do município de Belém do São Francisco, as duas missões fundadas (nas ilhas do Araxá e da Várzea) não deixaram muitas benfeitorias, pois os colonizadores da Casa da Torre de Garcia d'Ávila estavam sempre em atrito com os missionários e silvícolas, criando-lhes dificuldades, hostilizando-os e forçando-os a abandonar a região, de maneira que no fim do Século XVIII, quando Manoel de Carvalho Alves fundava a fazenda Canabrava, embrião de Belém do São Francisco, já não havia índios nesta região. A ilha do Araxá era então habitada por negros, tudo indicando que eram remanescentes do Reino dos Palmares de Zumbi, após sua destruição pelo bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho. Arrisson de Souza Ferraz nos informa que, após a destruição do reino de Zumbi, em fevereiro de 1694, muitos negros sobreviveram. Conseguiram fugir, buscando a vida errante, povoada de perigos, preferindo-a à rendição, com a consequente volta aos antigos donos que sabiam ser ferrenhos torturadores. Formando pequenos grupos, inúmeros deles enveredaram para o São Francisco. Subiam a corrente dos rios com obstinação, dominados pelo desejo de se afastar, o mais que pudessem, das paragens da tragédia. Iam pedindo asilo e eram acolhidos de Penedo até além de Cabrobó.
CONQUISTA E POVOAMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Os municípios que formam o Sertão pernambucano do São Francisco abrangem uma área de 23.274 km².
No litoral do Estado de Pernambuco, a ocupação ocorreu essencialmente através da cultura canavieira, sendo o engenho o elemento de conquista e fixação do homem à terra.
Paralelamente à cana-de-açúcar, desenvolveu-se uma economia complementar, apenas de subsistência. Plantava-se basicamente mandioca, arroz e feijão, criando-se o gado como fonte de alimentação local e força de trabalho.
Como o plantio da cana, na Zona da Mata, exigia extensas margens de terra, e os senhores de engenho só quisessem produzir cana, por causa dos bons preços do açúcar, a criação de gado passou a ser empurrada para o Interior. Num processo chamado de "divisão" ou "especialização” surgiam fazendas que criavam e forneciam gado para os engenhos que ocupavam a Zona da Mata.
Assim, estabeleciam-se, no Sertão, as fazendas de gado. Estas forneciam para a região litorânea animais em pé, carne-seca e couros, estes últimos destinados também à exportação.
No Sertão, foi a pecuária o elemento essencial de ocupação e desenvolvimento. A forma como a criação do gado interiorizou-se é explicada por Nelson Werneck Sodré, através de 3 fases, onde se deram vizinhança, coexistência e separação, entre as atividades pastoril e agrícola, dominantes no litoral.
Na primeira fase, o gado e a lavoura avizinham-se na mesma propriedade. O curral é o quintal do engenho. É a fase em que o gado fornece ao homem a carne para alimento da população local, a força de tração para o transporte a pequenas distâncias e para moenda nos engenhos, substituindo, assim, o trabalho humano.
Na segunda fase, dá-se a separação da propriedade agrícola e pastor, sendo que esta se interiorizou, mas ainda bordejando as áreas agrícolas.
Conquanto separadas as atividades, o proprietário do gado ainda é senhor de engenho. Nessa fase, além do que já fornecia ao proprietário, também se obtinha, do gado, o couro, matéria-prima de numerosos utensílios de uso regional.
Na terceira fase, a pecuária ganha o Sertão, ocorrendo, com o desenvolvimento dos rebanhos, a necessidade consequente de amplas pastagens. É a fase a que se refere Antonil, quando narra a expansão pelos rios. Nela, realiza-se a conquista do interior da Bahia ao Maranhão. As ligações entre o Sertão pastoril e o litoral agrícola tornam-se periódicas e entre estas e as regiões mineradoras intensificam-se, através das trocas de produtos, as atividades pastoril, agrícola e mineradora.
Nessa fase, além do gado continuar fornecendo o alimento para o consumo interno e matéria-prima para utensílios, o couro passa a compor a pauta das exportações brasileiras, embora sem destaque, se comparando-a a exportação do açúcar.
A aquisição das terras do Sertão fora feita em forma de sesmarias, resultando em propriedades de grandes extensões, pertencentes a latifundiários dos centros polarizadores da época: Olinda, Recife e Salvador.
Quanto à organização social, instalada embrionariamente na zona do pastoreio, o trabalhador goza de certa liberdade, em relação ao trabalhador do litoral. Os proprietários não vivem em suas terras, mas delegam a vaqueiros a administração destas e dos seus gados, remunerando-os em espécie, através do sistema de "quarteação". Essa estrutura, embora menos rigida que a da zona agricola, não permite aos povoadores desapadrinhados o acesso à propriedade da terra.
A IMPORTÂNCIA DOS RIOS NO DESBRAVAMENTO DA REGIÃO
Os rios foram as vias naturais da penetração no interior pernambucano, sendo o São Francisco a mais importante delas.
Documentos afirmam a penetração pernambucana até o seu limes extremo, desde 1738, e apresenta o Vale do São Francisco como uma das áreas pioneiras de ocupação dos Sertões brasileiros.
José António Gonsalves de Melo, analisando sob o ponto de vista dos Itinerários de penetração, mostra a ocorrência de três correntes ne Estado de Pernambuco em demanda ao Sertão, sendo uma delas do próprio Estado e uma da Bahia.
Uma das correntes pelo litoral, parte de Olinda para o sul, até atingir o Vale do São Francisco, de onde inflete para o noroeste, em sentido contrário à corrente deste rio, subindo os afluentes Ipanema, Moxotó e Pajeú, da margem esquerda do São Francisco. Outra corrente parte de Olinda para o norte, sobe os cursos dos rios Piranha-Açu, Apodi-Mossoró e Jaguaribe, fora do Estado, e penetra pelo Interior, contornando a Borborema pelo noroeste e oeste.
Da Bahia, povoadores dirigem-se para o norte pelo litoral, atingem o São Francisco, sobem o vale do mesmo, fundando currais nas margens. Esta penetração baiana, não respeitando a linha divisória entre as capitanias, penetra em Pernambuco e se adentra nas terras situadas ao norte-Maranhão e Piauí, alcançando os altos cursos dos rios que se dirigem para a costa norte, formando vastos latifúndios, como os da familia Garcia d'Avila, conhecida como "Casa da Torre", com grande influência na formação de povoados e vilas nesta região, e os de Domingos Afonso Mafrense que fundou mais de 50 fazendas no Piauí.
FORMAÇÃO ÉTNICA NO VALE DO SÃO FRANCISCO
Foram os índios, os primitivos habitantes das selvas brasileiras, os primeiros tipos humanos que andaram e se fixaram no vale do São Francisco e nos Sertões do Nordeste do país. Buscaram aquelas paragens, em grande número, em continuas migrações, deixando a região litorânea, fugindo do tipo de trabalho do colonizador português.
A esse respeito, diz Capistrano de Abreu:
"Nos primórdios da colonização, quando o europeu atingiu pela primeira vez a área do território brasileiro que tinha por chamariz as águas do São Francisco - o rio condensador de gente - campeavam e dominavam as nossas florestas os tapuias que constituíam numerosa casta de várias tribos. Originários do sul do País, depois de porfiadas lutas com os tupis, passaram a ocupar o vasto território que se estende desde a foz do rio São Francisco até o rio Cricaré, denominado depois São Mateus, no Estado da Bahia, até que se fixaram na zona sertaneja de Pernambuco. Dominaram a margem esquerda do grande rio e se embrenharam pelo Interior até ao Piauí."
Ao índio, seguiu-se o branco, colonizador ou aventureiro, vindo do litoral. A presença do europeu, na ribeira franciscana, é posterior ao estabelecimento do sistema das Capitanias Hereditárias, pois naquela região não se verificaram episódios como o de João Ramalho, em São Paulo, e o de Caramuru, no recôncavo baiano.
Cabe a Duarte Coelho Pereira a glória de ter sido o iniciador da conquista do vale do São Francisco. O fidalgo lusitano, depois de ter posto ordem nos negócios de sua administração, organizou uma expedição, colocou-se à sua frente e partiu para a empresa. Penetrou a corrente pela sua foz, no oceano, e a subiu por vários dias. Teve o cuidado de colocar marcos, nos lugares onde aportou, assinaladores de sua presença e de seu domínio. Afirma o Pe. Turíbio de Vila Nova Segura, na obra "Bom Jesus da Lapa - Resenha histórica", que foi Duarte Coelho Pereira o primeiro homem europeu que avistou o morro da Lapa, onde se localiza o tradicional santuário que atrai crentes de todo território nacional. A Duarte Coelho Pereira, sucede seu filho Duarte Coelho de Albuquerque. Este também voltou suas vistas para aquela região. Em 1560, chefiando uma expedição, da qual fazia parte seu irmão Jorge Coelho de Albuquerque, empreende a jornada. Percorreu várias extensões ribeirinhas. Restaurou povoações já existentes às margens do São Francisco e levantou outras, dentre as quais a de Penedo que foi elevada à vila, em 1636, por ato do quarto donatário.
Expedições de cunho militar também foram enviadas para a conquista dos Sertões da capitania de Pernambuco. Durante cinco anos, elas percorreram as planícies, montanhas e desertos.
Enquanto se operava a penetração sertaneja, a indústria açucareira da região litorânea, movida quase que totalmente pelo braço escravo, atingia grande desenvolvimento. Os negros eram trazidos do continente africano, nos porões dos navios, em degradantes condições. Junte-se, a essa circunstância, a dureza do trabalho servil, com penosas jornadas de sol a sol, os castigos corporais e maus-tratos, infligidos por feitores desumanos. Daí, as fugas constantes e contínuas do negro. Muitos deles buscaram as paragens férteis da serra da Barriga, dando origem ao Reino Negro de Palmares, chefiado por Zambi. Outros dirigiram-se à região são- franciscana, onde foram acolhidos pelas comunidades, principalmente nas ilhas das missões.
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NO VALE DO SÃO FRANCISCO
Mais tarde, com o progresso da agricultura e da pecuária na região pernambucana do São Francisco, teve início ali a formação de uma pequena burguesia rural, prelúdio da era patriarcal sertaneja. Alguns fazendeiros mais abastados, como JOÃO AVELINO DE CARVALHO DANDÃO, resolveram adquirir escravos, nos centros mais populosos, para impulsionar suas lavouras.
Abolido o regime servil, os negros das comunidades são-franciscanas por lá ficaram, entregues às mesmas atividades agrícolas. Muitos adquiriram pequena gleba de terra e a foram cultivar por conta própria. Outros preferiram continuar nas mesmas fazendas em que se encontravam, na condição de assalariados.
A atividade pastoril foi, não se pode negar, fator decisivo para a conquista e povoamento do São Francisco. As fazendas de criação, na sua quase totalidade, deram origem às povoações, às freguesias, às antigas vilas e às cidades de nossos dias. Os ínvios caminhos que ligavam uma fazenda a outra são as rodovias movimentadas do presente. A atividade pastoril, de outro lado, criou duas personalidades marcantes: o vaqueiro e o boiadeiro.
O vaqueiro, como responsável perante o fazendeiro, pela melhoria e crescimento dos rebanhos, tinha múltiplas atividades. Não havendo as invernadas, o gado era criado nos campos, completamente às soltas, cabendo-lhe ambientá-lo nas melhores pastagens e curá-lo das doenças, segundo as terapêuticas de uma veterinária própria: para as feridas infecções, vulgarmente chamadas "bicheira", usavam a creolina, a reza, "a pedra no rastro e algumas "simpatias". Além disso, deviam acompanhar com cuidados especiais a gestação e o parto das fêmeas, ordenhando-as na estação do inverno, por um processo característico: traziam-se dos pastos todas as vacas com as suas crias para o curral da fazenda e ali elas permaneciam algumas horas para adaptação ao novo regime. Terminado o período de adaptação, soltavam-se as vacas para os campos e recolhiam- se os bezerros. As vacas passavam o dia pastando e, à noitinha, voltavam ao curral, onde eram reunidas aos bezerros para lhes dar de mamar. Depois, vacas e bezerros eram separados, assim passando a noite. No dia seguinte, ao romper da aurora, tinha lugar a ordenha. Inicialmente, deixavam-se os bezerros mamar um pouco, "para a vaca não esconder o leite e a seguir, com finos cordéis, chamados "arriadores", prendiam-se os bezerros à mão da vaca. Arriados os bezerros, passava-se a tirar o leite. Tirava-se em cuias de cabaças, vasilha muito utilizada na região são-franciscana. O leite saía das tetas, espumante, sendo depositado em latas de folhas de flandre. Ao fim, era levado para a residência a casa da fazenda. O leite era de capital importância para o vaqueiro. Como alimento de agradável sabor e alto teor nutritivo, era tomado cru, cozido, com farinha de mandioca, com batata-doce, com abóbora. Com imbu cozido e açucarado, dava a "imbuzada", prato excelente pelo gosto e índice calorifico. Com o leite, faziam-se a coalhada, o queijo e o requeijão.
Pelo seu trabalho, os vaqueiros tinham direito ao leite tirado das vacas, à quarta parte dos bezerros nascidos e vingados, a uma gleba de terra para o cultivo. Fazendeiros mais liberais forneciam, aos vaqueiros, os cavalos para as tarefas pastoris e quando não o faziam, o problema corria à conta do próprio vaqueiro. A indumentária para aquelas tarefas era típica: calças de couro, vulgarmente chamadas de perneiras, paletó, guarda-peito, luvas e chapéu, todos de couro. Com tal vestimenta, penetrava o vaqueiro nas mais intrincadas caatingas, varava moitas de espinhos em todas as andaduras do cavalo, ao encalço da rês que, afinal, terminava por ser dominada e voltava ao curral.
Em determinada fazenda, quando surgia uma tarefa de maior amplitude, ali se reuniam os vaqueiros das vizinhanças para executarem-na em conjunto, atendendo à convocação do fazendeiro. Nas jornadas constantes que a profissão impunha, conduzindo o gado de um pasto a outro ou dos campos para os mangueirões, os vaqueiros soltavam a voz, nas canções dolentes que tinham quase sempre, ora uma exaltação, ora um conselho, ora uma advertência àqueles animais que lhes eram tão caros. Esses cantos, verdadeiras relíquias do folclore nordestino, tinham o nome de "aboio", o abolo de que fala Olegário Mariano, na sua formosa poesia "Meu Brasil". O aboio era cantado à noitinha, para chamar as vacas ao curral. Deitado ou sentado sobre a viga que ligava os mourões da porteira, o vaqueiro plangente, convocava o gado a se recolher.
O boiadeiro era um homem de negócio. Comprava o gado na região sertaneja para vendê-lo nas grandes cidades de Pernambuco e Bahia.
A atividade do boladeiro era não apenas de ordem empresarial, de fundo econômico, pois buscava colocar, nos melhores mercados, o produto de máximo rendimento do sertanejo, mas também de desbravamento, de penetração. As trilhas que percorreu avivou e ampliou com o passo de suas levas de gado, as estradas reais dos dias presentes; os lugares que escolheu para descanso, pastagem e pouso das boladas, são aglomerados humanos dos tempos atuais.
Fonte:
LEITE, Marlindo Pires; RORIZ, Maria Estelita Lustosa; COELHO, Maria Auxiliadora Lustosa. Belém: uma cidade no Vale do São Francisco. Recife: CEPE, 1993. P. 23-31.